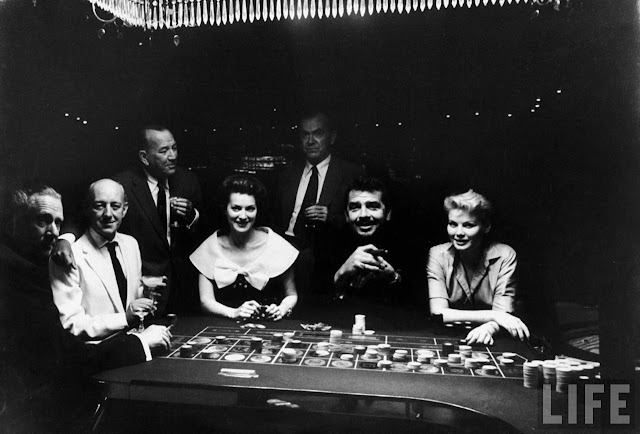Registado como João Alfacinha da Silva, no Alentejo que o viu nascer, foi mais tarde alcunhado por um colega de liceu, já na orla da capital, e transmutou-se em - Alface.
Bem lhe deve ter sabido a nova e abonada graça, mantidos o verde e o vegetal dos radicais próprios, porque logo a adoptou. Até hoje. Assim passou a assinar tudo o que escreve e é a esse nome que responde, em trato íntimo ou mais formal. Pratica um humor desmanchado, sempre à margem das convenções do dia e guarda prudentes distâncias da crista das ondas locais. No que respeita à sua prosa fi ccional pertence, de há alguns anos, à família dos autores publicados por uma editora especificamente singular - a Fenda; autor e editor espelham nesta relação o jogo, mais que operacional, da mão e da luva. Encaixam-se como poucos e é de crer que muito se divirtam pelo correr da aventura de dar forma publicável à obra, até que as páginas impressas surjam nas bancas e possam atingir o anónimo leitor (invariavelmente picado pelo chiste dos títulos), sujeito então a reagir com risos e risinhos, uma ou outra gargalhada, alguns sorrisos. O tom geral de cada livro é acidulado, por vezes desconfortável, já que o registo narrativo e a intenção que nele se pressente, vem ditado por uma lupa irónica, que observa o tempo e o lugar dos intervenientes na acção por ângulos onde a complacência não tem direitos adquiridos. Alface inventa para as suas personagens um "modus" de existir que só a moldura caricatural, onde as inscreve, consente adoçar. Mas, como se exige ao bom tempero de uma salada, são as gotas de limão ou o fio de vinagre que realçam o gosto dos verdes vegetais e assim conseguem entreter o nosso paladar. O seu último romance é digno da leitura de qualquer alfacinha, particularmente no mês de Junho, ainda para mais neste ano da graça do Senhor com eleições autárquicas. A percorrer as páginas lá se encontra (entre muitas outras idiossincrasias da cidade e do seu governo) o reconhecimento afectivo de um bairro, o som coreografado das marchas, o cheiro a sardinhas, a evocação do mais popular de todos os santos... O título não ilude - "Cá Vai Lisboa".
Alface, diz-me quem és.
Hoje? Hoje, acho que sou o rapaz do trapézio voador, uma atracção do circo; sou um escritor, um desempregado de longa duração. Nasci no Alentejo, em Montemor-o-Novo, onde vivi a infância e parte da adolescência; vim para o Liceu de Oeiras, donde transitei, por desígnio familiar, para Direito; por ali andei três anos, mais pelo bar de Letras do que pelas aulas da minha faculdade, acumulando com o experimentar de Lisboa à noite, mais os copos e as brincadeiras adjacentes; depois desisti e ainda estive cerca de um ano numa outra bizarria chamada ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada), onde à época abundavam católicos progressistas e seminaristas com grandes sapatos. Também não tive jeito para aquilo. Achei graça, "a posteriori", ver que o meu calvário académico coincidia com o do general Eanes, que também andou em Direito e no ISPA. Entretanto, tive de começar a trabalhar, primeiro no jornal "República" e depois, por convite do Álvaro Guerra, fui escrever para televisão, para uns programas produzidos pelo João Martins - o Ensaio e o Impacto; a seguir a uma desavença com o produtor, o Guerra, o Zé Nascimento, os irmãos Matos Silva e eu rompemos com essa colaboração e decidimos criar uma nova cooperativa de cinema; ainda processámos o antigo patrão, mas o nosso advogado, que era o Marcelo Curto, com o rebentar do 25 de Abril andava mais virado para a revolução do que para o nosso processo e só com alguma ajuda do Galveias Rodrigues é que a Cinequipa conseguiu aguentar-se; entrei por essa altura para a antiga Emissora Nacional, onde conheci pessoas muito curiosas, o Herberto Helder e outras, de quem me tornei amigo. Fui continuando a escrever textos para rádio e televisão, até que me chateei com uma fase muito "militante" que atravessou a RTP durante um certo tempo e saí da Cinequipa; mantive-me durante 20 anos na rádio, já chamada Rádio Comercial, colaborando episodicamente em jornais e televisão. Casei e tenho duas filhas; a mais velha é pintora e designer gráfica e a outra é bailarina, a estudar de momento em Bruxelas; já sou avô. Quando saí da rádio, por volta de 92, fiz uma daquelas idiotias que muitos eram tentados a fazer - imaginei que poderia sobreviver como "free-lancer".
Ainda não referiste outra tentação, a da escrita ficcional, que nunca mais te abandonou e que já tinha feito surgir, pelas voltas do percurso que acabas de alinhar, alguns livros de tua autoria.
Pois. Em 1977 publiquei, em parceria com Manuel da Silva Ramos (regressado de um exílio em França), o primeiro livro de uma trilogia de ficção, "Os Lusíadas", editado pela Assírio & Alvim; o segundo, "As Noites Brancas do Papa Negra", é de 82 e o terceiro, "Beijinhos", saiu em 96 (os dois últimos editados pela Fenda). Esta trilogia, a que demos o nome genérico de "Tuga", era uma espécie de meditação ficcional sobre Portugal: "Os Lusíadas" correspondiam ao movimento de expulsão, à descoberta, à saída para o mundo; "As Noites Brancas..." referem-se ao estar lá fora, a um tempo de pousio e "Beijinhos" é o adeus, o rebarrigar outra vez, ditado pelo fim do Império, pelo acabar da aventura planetária, com o consequente regresso à fonte matricial de retornados e emigrantes. Escrevi ainda dois livros de contos, já sozinho. O primeiro "Cuidado com os Rapazes" (que vai ser reeditado este ano) - motivou até uma história que se tornou famosa, com Pedro Santana Lopes, à época presidente do Sporting: a editora e eu decidimos fazer sair, para efeitos de "marketing", um autocolante que dizia apenas - Cuidado com os Rapazes, e que foi enviado dentro de envelopes brancos, pelo correio, para uma série de nomes e moradas; era um "teaser" promocional, barato e simples, mas ele veio para a televisão dizer que andava a ser ameaçado e que ia entregar o caso à PJ para, através da análise de impressões digitais, tentar localizar os autores; mandei-lhe o livro e uma carta a explicar o que era aquilo e a história morreria por ali, não fora a glosa de alguns comentadores de serviço; enfim, a coisa não lhe correu lá muito bem. Escrevi ainda uma série de livros juvenis - "Um Pai Porreiro Ganha Muito Dinheiro"; "Uma Mãe Porreira É Prá Vida Inteira"; "Filhos Assim Dão Cabo De Mim"; "Avó Não Pise o Cocó"; "A Prima Fica por Cima". Trata-se de uma história dividida em cinco livros, com as mesmas personagens, que veio depois a sair no Círculo de Leitores, num só volume, com o título - "Uma Família Sem Mestre". O segundo livro de contos chama-se "O Fim das Bichas" e leva um subtítulo irónico - "O fim das bichas é o princípio das filas". Em 2004 saiu o meu primeiro romance a solo - "Cá Vai Lisboa".

Para além da literatura, outras colaborações (umas mais episódicas do que outras) têm ocupado a tua vida, como atrás referiste - para a rádio, televisão e jornais. Consegues apontar como preferencial, para a escrita que praticas, algum destes três meios?
Talvez a escrita para televisão. Passei por uma experiência engraçada, que foi coordenar durante um ano um grupo de argumentistas de telenovelas, na NBP, para a TVI. Tenho pena que o género não seja mais bem feito, porque acho o formato muito engraçado, em termos de agilidade da escrita; é um sucedâneo do "roman feuilleton", dos folhetins, no fundo é uma linguagem televisiva, mas contemporânea, de coisas que vêm do tempo da Maria Cachucha. Também não tive muito jeito, ou paciência, para continuar por ali e, se calhar, o meu lado elitista entrou em colisão com aquela maneira de escrever, porque havia coisas que me custavam a engolir.
O teu lado elitista?!!
É o gostar de imaginar que a literatura, no seu melhor, é para pouca gente. Sou muito ligado à forma de escrever, prezo muito uma escrita com dinamite dentro, exigente de um ponto de vista formal. O que escrevo tem de me agradar a mim, seja romance, argumento ou diálogos de novela. Como a escrita é o que verdadeiramente me dá prazer e como em literatura não gosto, de facto, de muitas coisas, torna-se complicado aceitar um determinado número de soluções.
É território onde não fazes concessões?
Já fiz menos - os meus primeiros livros (escritos em parceria) eram mais radicais, ao nível de uma linha joyceana de trabalhar as palavras ao limite, quase na ordem da anti leitura; depois, já a escrever a solo, os livros foram ficando mais "legíveis", digamos assim. Como não escrevo ficção por dinheiro (não está dito em lado nenhum que tenha de ganhar dinheiro com a literatura), esse é o meu espaço de liberdade, onde só faço aquilo que quero; ora a escrita de televisão, rádio e jornais, é necessariamente uma escrita de compromisso, para o grande público, em funil aberto, ao passo que a literatura pode funcionar para nichos de afinidades e sensibilidades electivas. Não tenho a presunção, seria incapaz, de assumir uma lógica de "best-seller".
Segues as vendas dos teus livros?
A Fenda é uma casa pequena, marginal, que funciona ao arrepio de alguma lógica comercial, e nisso é uma editora quase suicidária. Publica obras que não cabe na cabeça de ninguém publicar. O Vasco Santos é um editor único - tanto publica coisas inacreditavelmente boas, que podem passar despercebidas, como não resiste a dizer que sim a um amigo que escreveu não sei quê e lá fica o armazém cheio de livros que não vendem; também não é de fazer o "follow-up" mediático dos livros, está fora dos sistemas de promoção. Esse lado quase clandestino da editora agrada-me muito. Talvez seja uma ideia discutível ou romântica, mas acho que a melhor literatura é uma coisa para pouca gente. Para a muita gente há muitos livros, muitos deles estimáveis, mas os verdadeiramente bons são para poucos. Será um tique classista, mas para mim alguns dos melhores prazeres são para raros, embora admita que a comoção a ver uma telenovela seja tão legítima como a de ver um filme do Kubrick. Não há mensurabilidade para a emoção ou para o sentido do prazer que as pessoas sentem; a mim ocorre-me, por exemplo, comover-me com coisas pífias - não digo que me comova desalmadamente com "Música no Coração", mas já me aconteceu com filmes de fraca qualidade, uns livros menos bons, alguns momentos colectivos, comover-me absolutamente. Se calhar com coisas que não merecem.

E quem é que define o merecimento de que falas? Que pretensão te assiste para dizeres - "Comovi-me com isto, mas isto não merece a minha comoção"?
Nalgumas coisas tu consegues topar o truque de que são compostas; no cinema, por exemplo, é frequente isso acontecer ou, na escrita, onde também consegues dar-te conta das costuras de fabrico. Mas, independentemente das artimanhas, por vezes não deixas de ser tocado por um conjunto de emoções, digamos, primárias, pouco elaboradas ou imediatistas. A adesão que as pessoas têm ao futebol é dessa ordem - quando foi a festa do Benfica, o meu clube, não fui para a rua, mas estive até às quatro e tal da manhã a ver aquilo tudo na televisão. E chorei. Este tipo de sentimento é muito humano e mais do que legítimo; se cerebralizarmos as emoções deste género, elas não resistem, de tão simplistas que são. Mas. há um escritor polaco de quem gosto muito, Gombrowicz, que resume isto melhor: "Quanto mais inteligente, mais estúpido." Ou seja, uma excessiva elaboração intelectual mata a humanidade que é desejável não deixar morrer em nós. Passa-se o mesmo com a culinária, não há prato hiper-elaborado da cozinha francesa, sustentado por um grande aparato teórico, que possa competir com o sabor refinadíssimo de uns secretos de porco preto salpicados com umas pedrinhas de sal. A simplicidade é de uma grande exigência e credora de um imenso saber. É a mãe da criação.
Começaste por falar no simplismo manhoso que reveste certas obras; dizes-te elitista, embora confesses emocionar-te por vezes com coisas de menor merecimento; afirmas que o melhor é para poucos e louvas a simplicidade, que só o melhor pode reflectir. Queres dizer tudo isto de outro modo, mais claro?
Digo que me perturba um bocado que algumas análises teóricas maculem o prazer que eu possa experimentar, por exemplo, a ler Melville, ou Emilio Salgari, ou outra coisa qualquer. Acho que há uma virgindade dos sentidos, sobretudo no campo artístico, a que dou grande valor. Das poucas coisas que justificam a existência, pelo menos a minha, é o ter alguma sensibilidade artística; não a tenho em todas as áreas, porque há matérias a que sou imune - se a escultura não me toca, já a arquitectura tem coisas que me deslumbram (lembro-me de ter ficado banzado com alguns edifícios tremendos de Hong Kong e hei-de ir ao Porto ver a Casa da Música); na pintura posso não reagir a muita coisa (sou um autodidacta, embora tenha ao lado a minha mulher, que é uma excelente pintora), mas comovo-me com o Turner e fico passado com o Kitaj, um americano que vive em Londres e que trabalha muito em relação com o cinema e com a sensualidade da sua experiência pessoal em prostíbulos catalães. Ou seja, as coisas demasiado complicadas, talvez por falta de informação, passam-me ao lado, como algum do cinema contemporâneo, mesmo a nível do argumento, que me deixa indiferente.
Já deste a entender que gostas cada vez mais de narrativas claras, com personagens bem definidas, a dar corpo consistente às histórias que habitam. Cumpres isso naquilo que fazes?
A escrita que hoje faço, individualmente, é uma escrita ligada a duas ou três paranóias que me são caras: a história (temos de agarrar as pessoas com uma boa história), que deve vir bem escrita, não se pode desleixar o aspecto formal (conheço muito boas histórias muito mal escritas); o sentido de humor, de que gosto particularmente em literatura (não sou pela anedota e pelo óbvio); a força da escrita, isto é, para mim a escrita tem de ser contundente, eficaz (a moleza das frases e personagens enjoa-me).
Se eu não tivesse lido o "Cá Vai Lisboa", como é que me "venderias" a história, de forma a conquistares uma nova leitora?
Comecemos pela origem da história. Trabalhei, como já sabes, numa produtora de televisão com o Nicolau Breyner, e um dia disse-lhe que tinha uma ideia para uma "sitcom" que podia ter piada: um clube "gay", em Alfama, resolve candidatar-se a representar o bairro nas Marchas dos Santos Populares. O Nicolau atirou-se ao ar - "Lá estás tu com as tuas maluqueiras, ninguém pega nisso." Deixei passar, escrevi um bocadinho e depois, quando saí das telenovelas, enfiei-me durante três meses na casa que ainda tenho em Montemor e, até como processo de regeneração, escrevi aquilo de enfiada - levantava-me às 7 da manhã e só parava quando já não havia luz do dia. Foi muito duro, até porque era Inverno, a casa é grande, sem aquecimento central... Foi agreste, mas eu precisava daquele tratamento de choque. É possível que no livro se note alguma dessa violência, sempre presente no processo de recuperação do gosto pela escrita. Voltando à história - peguei numa situação hipotética, mas não tão distante da realidade quanto possa parecer: um presidente da câmara (personagem de ficção mas se calhar com alguns traços de anteriores presidentes da Câmara de Lisboa), que apoiava tudo o que era minorias e, no caso, um grande entusiasta da inserção num santuário do marialvismo lisboeta de um clube "gay", patrocina a sua existência em Alfama; este clube tem na história uma função muito benemerente, entre outras actividades organiza aulas para meninas, meninos e adultos, o que faz com que, a pouco e pouco, as boas gentes do bairro o aceitem; a coisa começa a dar para o torto quando o autarca é posto perante o desejo de o clube ficar com a representação de Alfama no cortejo das Marchas e tenta tudo para boicotar o projecto. O livro faz, no fundo, um retrato satírico, penso que imaginativo e bem-disposto, de tradições lisboetas ligadas à mitologia do "bom povo" bairrista: um concurso de lançamento de sardinha (em vez da malha), de sardinha, sim, mas da espanhola, que essa não terá outra serventia que não seja para tal finalidade; a existência de uma associação musical, a Associação 25 do Corrente, etc. Não existe nele uma verdadeira denúncia da corrupção autárquica, mas há um certo gozo em relação ao que, no fundo, é o poder discricionário de alguém que se crê um pequeno rei num pequeno microcosmos, no caso Lisboa e um bairro popular. O que é que o livro tem mais? Acho que alguma agilidade, que pode ser um bocado chocante, em considerar a comunidade "gay". Tenho para mim que cada um faz com o seu corpo aquilo que lhe apetece, mas as pessoas "gay" talvez não achem muita graça ao livro, talvez pensem que o que lá está escrito é desrespeitar a justa luta dos "gay" pela dignificação do seu estatuto, essas tretas que são a homogeneização de comportamentos. Ignoro se passarei por homofóbico, acho que não o sou, só que achei graça à ideia de meter uma comunidade "gay" dentro de um sítio que não tem pontos de identificação com ela e que só pode aceitá-la até um certo limite, o limite do possível. Como a hipocrisia é o grande cimento nacional, o limite é o "desde que não incomode". Quando passa a incomodar, não há aceitação da diferença que resista.

O livro correu bem, em termos de crítica e vendas?
Sim, atendendo ao facto de ser uma pequena edição e à dificuldade da Fenda de gerir uma lógica comercial de promoção. Tive reacções positivas de muitas pessoas, que o acharam divertido, refrescante, diferente do que por aí anda. As pessoas reagem bem ao descaro presente no livro, ao chamar os bois pelos nomes. Também saíram coisas simpáticas na imprensa, rádio e televisão, mas abro uma pequena ressalva em relação ao suplemento literário do jornal PÚBLICO, que até agora não publicou uma linha sobre aquilo. Poderia especular sobre as razões da abstinência, presumindo alguma incomodidade em afrontar a temática e a escrita, politicamente incorrectas, mas não vale a pena, não me apetece fazer o exercício.
O que se escreveu e falou sobre o teu livro pegou no lado de possíveis semelhanças com personalidades reais, nomeadamente dirigentes autárquicos?
Sim, aqui e ali houve referências à possibilidade de se apontar ao executivo de Santana Lopes, o que não colhe, porque se trata realmente de personagens de ficção, com ganchos muito ténues de inspiração directa na vida da cidade. Não tenho qualquer pretensão regenerativa da classe política, para a qual me estou verdadeiramente nas tintas. Penso de resto que, com a mania, provinciana e muito portuguesa (sobretudo dos que se reclamam de cosmopolitismo!), de se achar que o que vem lá de fora é que é bom, não me repugnaria nada mandar vir um Delors, mesmo um Helmut Kohl, e até aproveitar o Scolari (e o Fernando Pinto, da TAP, como sugeriste) para integrarem os vários patamares do poder executivo que dirige o país, acumulando com funções que porventura exerçam no momento.
Que avaliação fazes da literatura portuguesa contemporânea?
Não muito satisfatória, devo confessar. Temos bons autores, bons poetas e bons romancistas, mas, no conjunto, não me parece uma literatura muito potente. Se pensares no que nos chega da América do Norte e do Reino Unido (e não é só uma questão de escala ou de língua dominante), temos mesmo de baixar a bolinha.
Eu não sinto que deva baixar qualquer bolinha em relação à poesia portuguesa! Nessa matéria, peço meças ao grande mundo com total tranquilidade.
Terás razão, o defeito é capaz de ser meu, leio pouco poesia. Dos mais antigos gosto dos trovadores, claro, de Camões, Bocage, Cesário, Nobre, Botto e, dos mais próximos, leio com gosto o Grabato Dias, o Herberto, o Sena, o Pimenta, o Nemésio, o O'Neill, algumas coisas do Armando Silva Carvalho, do Gusmão, do Franco Alexandre. Mas sou da prosa, a mim é a prosa que me enche as medidas. Acho graça a certas coisas da Agustina, mas não tenho saco para o Saramago, ou para o Lobo Antunes, por exemplo. Li recentemente dois belos livros "A Escola do Paraíso", do Rodrigues Miguéis, e "Apenas uma Narrativa", do António Pedro, uma obra pequenina e notável. Carrego sempre a sensação de que ler um grande livro me impede de ler outros livros menores. Sabes o que me seduz na prosa? O que me comove e atrai é o compromisso (que lhe deve presidir) entre a ética, a forma e uma certa demência fundadora do universo da escrita. A prosa, mais do que a poesia, desafia Deus.
Se calhar, por seres um prosador, desconfias da dimensão de mistério, que é o que preside à criação do poeta.
Talvez.
Lês e escreves todos os dias?
Nem pensar, lavo os dentes, tomo banho, como e durmo todos os dias, mas só escrevo e leio quando estou para aí virado. A literatura não me é uma canga, tem de me apetecer, tem de me dar prazer e, no meu caso, preciso de tempo para repensar o que fazer a seguir, para ser surpreendido; tenho de duvidar muito de mim, pôr em causa a minha capacidade de escrever e, superando esses impasses, superar-me e atirar-me à bendita página branca; tenho de saber enfrentar o exercício de aprendizagem e coragem que a literatura exige. Abomino aquela técnica das reproduções à Warhol, essa espécie de comboio mecânico para servir a clientela e facturar sem descanso. De regresso à tua questão, não pertenço à família dos danados, dos obcecados com a escrita e a leitura. Nem me sinto obrigado a viver da ficção, esta escrita ficcional que pratico é a minha Gorongoza, uma reserva de vida selvagem e doméstica. É óbvio que aceito encomendas e gosto de corresponder, quando pedem que escreva para jornais ou para outra coisa qualquer - já fiz publicidade, já fui conselheiro sentimental com uma coluna própria, acho que só me falta escrever obituários. Há que fazer pela vida.
Dá-me uma palavra de eleição.
Ai! Creio que o "ai" (com exclamação, reticências ou a seco) é a palavra que melhor resume esta pátria e os fi lhos dela e, dando-lhe uns jeitinhos na entoação, aquela que nos pode levar mais longe. A todo o lado. E quem diz "ai", diz "ui", até porque os tempos vão de mais ais. Não?
Texto Maria João Seixas, 26 de Junho de 2005, jornal Público
Fotos de Pedro Cunha, copiadas do caderno Pública
Fotos dos livros encontradas em blogoperatorio.blogspot.pt e
www.alfarrabistaavelarmachado.com.pt
João Alfacinha da Silva (1949-2007)





,+Gerry+Albertini+and+Bob+Kirsh+(R)Ibiza,+SpainFebruary+1972Pierre+Boulat.jpg)